As plataformas digitais amplificam nossos instintos tribais.

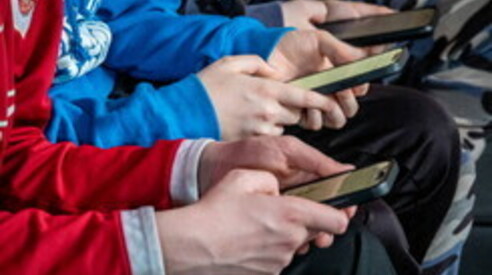
FOTO Getty Images
maus cientistas
Enquanto numa aldeia real seria impensável insultar gravemente um vizinho sem sofrer as consequências, no Twitter ou num comentário anónimo muitos cedem aos piores impulsos sem qualquer filtro.
Sobre o mesmo tema:
Na vida cotidiana hiperconectada de hoje, podemos percorrer as notificações em nossos smartphones e, em questão de instantes, sentir impulsos ancestrais fervilhando dentro de nós. Ficamos furiosos com mais um comentário provocativo de um estranho online, nos sentimos confortados pelo abraço virtual de uma comunidade de estranhos com ideias semelhantes ou experimentamos a amarga satisfação de ver um grupo oposto comemorar algo que percebemos como uma ameaça aos nossos valores. Nesses momentos, dinâmicas profundas da nossa psicologia emergem, forjadas em contextos muito diferentes do nosso atual.
Como diz um provérbio contemporâneo provocativo, temos mentes e emoções da Idade da Pedra e ferramentas divinas. Esse paradoxo resume a condição da humanidade no mundo moderno: criaturas com cérebros moldados pela vida tribal pré-histórica e séculos de paixões viscerais, agora dominando tecnologias e poderes antes atribuídos apenas a divindades. Somos, para citar o biólogo E.O. Wilson, uma espécie de "quimera evolutiva", carregando em nós uma mistura complexa de emoções paleolíticas, legados pré-modernos e capacidades tecnológicas quase divinas. O resultado é uma profunda desconexão — uma incompatibilidade evolutiva — entre aquilo a que nossas mentes e emoções se adaptaram e o ecossistema cultural e digital em que operamos hoje.
Grande parte da história evolutiva humana se desenrolou em um ambiente radicalmente diferente do atual. Por centenas de milhares de anos, nossos ancestrais viveram em pequenos grupos nômades coesos, geralmente compostos por algumas dezenas de indivíduos — talvez até uma centena, no máximo. Nessas tribos primordiais, o pertencimento era tudo: fazer parte do clã significava proteção e acesso a recursos, enquanto ser excluído podia ser equivalente a uma sentença de morte. A seleção natural aprimorou nossos instintos sociais nesse contexto: desenvolvemos uma forte necessidade de pertencimento e lealdade à identidade, bem como mecanismos sofisticados para monitorar nosso status dentro do grupo e detectar ameaças potenciais vindas de fora. Os circuitos emocionais que regulam o medo, a raiva, o afeto e a vergonha foram calibrados para interações presenciais em escala humana, nas quais cada indivíduo conhecia pessoalmente os outros membros da comunidade e compartilhava seus mitos, símbolos e objetivos. O cérebro humano, estruturalmente, não mudou muito desde o Paleolítico: a neuroanatomia e as predisposições instintivas permanecem aquelas adequadas para garantir a sobrevivência de pequenos grupos de caçadores-coletores. Não é surpresa, portanto, que nossos crânios modernos abriguem uma mente da Idade da Pedra, projetada para um mundo simples e estável que não existe mais.
Essa mentalidade ancestral agora se encontra imersa em um ambiente planetário complexo, fragmentado e tecnologicamente sobrecarregado — um ambiente, em muitos aspectos, incompatível com suas expectativas. Passamos de aldeias reais para tribos digitais globais. Graças às ferramentas quase divinas à nossa disposição — a internet, as redes sociais, a comunicação instantânea — cada um de nós está conectado a milhares de outras pessoas, exposto diariamente a notícias, opiniões e conflitos de todos os cantos do planeta. Nossas comunidades não são mais geográficas e coesas, mas sim elusivas e sobrepostas: podemos pertencer simultaneamente a dezenas de grupos online, fóruns e redes sociais, cada um com seus próprios valores e linguagens, muitas vezes desconhecidos uns dos outros. Essa proliferação de identidades e afiliações simultâneas é sem precedentes na história evolutiva e cria um fardo psicológico significativo.
Muitos de nós experimentamos uma espécie de dissonância cognitiva ao termos que transitar constantemente entre diferentes contextos de identidade — por exemplo, de sermos, em rápida sucessão, um profissional sério nas redes sociais do trabalho, a um torcedor apaixonado em uma comunidade esportiva, a um comentarista político inflamado no Twitter. Nosso equilíbrio interno sofre: conciliar múltiplas "versões de nós mesmos" pode nos levar a perder o senso de uma identidade coerente. Nossos ancestrais certamente não enfrentavam nada semelhante. Eles viviam imersos em um mundo social estável, com papéis claros e um número limitado de relacionamentos, enquanto nós navegamos por um fluxo constante de informações e interações fugazes, bombardeados por estímulos sociais que nossos sentidos e emoções lutam para decifrar completamente.
Essa desconexão entre predisposições psicológicas ancestrais e a realidade contemporânea está no cerne de muitos fenômenos exclusivos da nossa época. O instinto tribal que outrora garantia a cooperação dentro do grupo e a desconfiança cautelosa em relação a estranhos está agora ressurgindo na forma de afiliações ideológicas online e conflitos polarizados em escala global. O impulso de traçar fronteiras entre "nós" e "eles" — descrito em termos políticos pelo jurista Carl Schmitt como a distinção amigo/inimigo — está arraigado em nossa herança evolutiva e se manifesta em todos os lugares, do bairrismo no futebol às "guerras culturais" nas redes sociais. No desejo visceral com que defendemos nosso grupo digital favorito ou nossa posição ideológica, reconhecemos a mesma lógica das antigas alianças tribais: lealdade à identidade em troca de proteção e um senso de pertencimento.
Por outro lado, a hostilidade em relação ao grupo externo, que antes servia para nos proteger de potenciais inimigos, agora se inflama contra categorias abstratas de pessoas que nunca encontramos pessoalmente — eleitores do partido oposto, apoiadores de uma determinada causa, membros de uma subcultura online diferente. Cada um desses grupos pode se tornar, aos nossos olhos, um alvo para projetar medos e ressentimentos atávicos. Assim, tribos digitais se unem e se opõem umas às outras, disputando ferozmente questões muitas vezes simbólicas. As redes sociais estão repletas de facções que se sentem sob ataque mútuo, prontas para fortalecer sua forte camaradagem interna e pintar seus adversários como totalmente malignos ou insanos. É um mecanismo profundamente humano: em última análise, os humanos expressam indignação moral online pela mesma razão que expressavam nas tribos da Idade da Pedra — para defender a comunidade de comportamentos nocivos e reforçar normas compartilhadas. O erro não reside no instinto em si — que era, na verdade, vantajoso sob as condições certas —, mas no novo contexto em que ele é ativado, um contexto para o qual não foi concebido.
De fato, muitas de nossas reações emocionais atuais estão "desprogramadas" em relação à realidade contemporânea. Psicólogos evolucionistas usam o termo "desalinhamento" para descrever essa desconexão: por exemplo, tendemos a superestimar perigos imediatos e tangíveis, reagindo de forma exagerada a estímulos leves, enquanto simultaneamente subestimamos ameaças mais abstratas, difusas ou distantes. Nossos cérebros estão programados para ativar a resposta de "lutar ou fugir" quando confrontados com um agressor imediatamente visível — como um predador ou um inimigo tribal — mas estão muito menos preparados para lidar com ameaças complexas como mudanças climáticas graduais ou crises financeiras globais.
Assim, paradoxalmente, podemos ficar extremamente irritados e amedrontados com um tweet provocativo ou uma notícia alarmante lida online (um estímulo simbólico que, no entanto, desencadeia medos concretos), enquanto permanecemos apáticos diante de problemas reais percebidos como abstratos ou distantes. Da mesma forma, o que antes era cooperação em grupo pode se transformar em conformismo sectário: buscamos aprovação e validação dentro do nosso "grupo" online, e isso pode nos levar a adotar crenças ou comportamentos cada vez mais extremos para não sermos excluídos. Em nosso círculo íntimo ancestral, expressar indignação moral contra aqueles que violavam as regras servia como um sinal virtuoso de lealdade (demonstrava nossa preocupação com o bem comum) e ajudava a corrigir os desviantes; hoje, o mesmo impulso às vezes se traduz em indignações virais e campanhas de linchamento moral contra completos estranhos, talvez culpados de expressar uma opinião impopular. A paixão emocional com que reagimos a certas discordâncias lembra mais o ardor dos cruzados ou a ira nefasta de uma rixa religiosa do que o debate racional que nossas instituições democráticas modernas esperariam. É como se partes de nós tivessem permanecido em um nível pré-moderno de resposta emocional : sob o verniz da civilização iluminista, continuamos prontos para guerrear por uma ideia herética ou um símbolo profanado, tal como na época das inquisições e da queima de bruxas — só que hoje a "queima" assume a forma de um pelourinho transmitido ao vivo pela mídia para o mundo todo.
Para agravar ainda mais essa situação, temos o poder das ferramentas tecnológicas modernas, que interagem de forma perversa com nossos vieses cognitivos inatos. As plataformas digitais não apenas exploram nossos instintos tribais: elas os amplificam ativamente. As redes sociais, projetadas para capturar e manter nossa atenção pelo maior tempo possível, descobriram (quase que de forma algorítmica e evolutiva) que nada captura a atenção humana como conteúdo capaz de desencadear nossas emoções tribais mais fortes — indignação, medo, senso de vingança ou retidão. Uma publicação moderada e ponderada, que exige reflexão lenta, dificilmente se tornará viral; por outro lado, uma mensagem carregada de raiva, medo ou moralismo baseado na identidade tem muito mais probabilidade de se espalhar porque aciona precisamente os botões emocionais aos quais somos mais sensíveis. Os algoritmos das plataformas aprenderam isso por meio da experiência (processando bilhões de pontos de dados sobre o comportamento do usuário) e tendem a nos apresentar principalmente conteúdo que provoca reações instintivas intensas, seja um escândalo político, uma manchete alarmista ou a mais recente provocação divisiva. O resultado é um ciclo vicioso: somos naturalmente atraídos a buscar notícias e opiniões que confirmem a visão do nosso grupo; algoritmos, percebendo nossa preferência, nos mostram opiniões cada vez mais semelhantes; com o tempo, nossas crenças se radicalizam pela exposição repetida a um único lado ; a realidade digital se polariza em bolhas separadas de tribos hostis, cada uma alimentada por seus próprios fluxos de informação partidária, e o conflito de identidade se intensifica ainda mais, espalhando-se para a mídia e a política tradicionais. Tudo isso acontece, muitas vezes, sem que tenhamos consciência disso: permanecemos presos no que o cientista da computação Eli Pariser chamou de bolhas de filtro, filtros personalizados nos quais vemos principalmente o que confirma nossos preconceitos, enquanto a visão do outro nos chega distorcida ou caricaturada.
Estudos recentes, por exemplo, mostram que eleitores de lados opostos superestimam enormemente o ódio e a desumanização que a facção adversária sentiria por eles — um sinal de quão distorcida é nossa percepção dos outros quando vista através das lentes da mídia polarizada. Nesse sentido, os algoritmos exploram precisamente nossas vulnerabilidades cognitivas, aproveitando-se de vieses arraigados: por exemplo, o viés de confirmação (tendemos a buscar e acreditar em informações que confirmam o que já acreditamos), o viés de negatividade (estímulos negativos e emocionais capturam mais nossa atenção) ou o efeito de identidade (damos mais crédito àqueles que percebemos como membros do nosso próprio grupo). O desalinhamento entre os objetivos das mídias sociais (maximizar o engajamento para fins comerciais) e as funções da psicologia humana levou a uma maior polarização e desinformação no discurso público atual. Quando nossos mecanismos de aprendizagem social evoluíram, informações carregadas de valência moral e emocional eram cruciais, pois serviam para reforçar as normas do grupo e garantir a sobrevivência coletiva. Hoje, porém, os algoritmos, movidos por objetivos completamente diferentes, superexpõem justamente o tipo de informação " PRIME " (Prestigiosa, Pertencente ao Grupo, Moral, Emocional) à qual somos mais receptivos, independentemente de sua precisão ou representatividade da realidade. Assim, conteúdos extremos e divisivos ganham uma ressonância anormal, e os usuários — se não forem expostos intencionalmente a opiniões divergentes — acabam desenvolvendo uma visão distorcida das posições alheias e se sentindo cada vez mais justificados em sua raiva. Na prática, a máquina tecnológica amplifica e instrumentaliza nossas emoções instintivas, criando um ambiente social no qual a moderação e a racionalidade lutam para emergir.
Outro elemento crucial do mundo digital é a ausência de alguns dos mecanismos naturais de controle e equilíbrio que existiam na interação face a face. Nas tribos tradicionais, havia limites e responsabilidades claros: você conhecia cada membro da comunidade pessoalmente, via as consequências dos conflitos em primeira mão e sabia que teria que continuar convivendo com essas pessoas mesmo após uma desavença. Havia, portanto, um incentivo para manter um certo respeito mútuo, para não ultrapassar certos limites, pois uma ruptura nos relacionamentos resultaria, em última instância, na perda de todo o grupo. Online, tudo isso desaparece em grande parte: frequentemente interagimos com estranhos cujos rostos não reconhecemos, que provavelmente nunca mais veremos e pelos quais não sentimos nenhuma responsabilidade.
Enquanto numa aldeia real seria impensável xingar um vizinho sem sofrer as consequências, no Twitter ou num comentário anônimo, muitos cedem aos seus piores impulsos sem filtros. O meio digital, protegendo-nos atrás de uma tela, desinibe as nossas reações: podemos reagir com muito mais veemência do que reagiríamos olhando alguém nos olhos. Além disso, o distanciamento físico e social facilita a desumanização dos outros — reduzi-los a um ícone, um nome de usuário, esquecendo que existe uma pessoa real por trás deles. Isso diminui ainda mais o limiar da empatia e alimenta ciclos de provocação e retaliação verbal. Em suma, detemo-nos em armas de comunicação incrivelmente poderosas — a capacidade de disseminar instantaneamente os nossos pensamentos e humores para um público vasto — mas sem um aumento correspondente na nossa sabedoria emocional ou capacidade de autocontrolo. Essas ferramentas "divinas" acabaram nas mãos de seres com reações de primatas territoriais, testando severamente as convenções civis e institucionais que sustentam a coexistência pacífica.
Basta pensar no impacto que algumas figuras carismáticas com milhões de seguidores podem ter na disseminação de teorias da conspiração ou no fomento do ódio : suas mensagens inflamatórias ativam em seus seguidores os mecanismos de alinhamento tribal e suspeita em relação ao inimigo, muitas vezes contornando completamente os órgãos intermediários tradicionais (partidos, mídia oficial, academias) que, no passado, filtravam e moderavam o conteúdo do debate público. Nesse sentido , nossas "instituições" sociopolíticas, ainda em grande parte modeladas na lógica do século XX ou mesmo do século XIX, lutam para acompanhar o ritmo : a democracia representativa e o discurso racional do Iluminismo pressupõem cidadãos capazes de se informar criticamente e negociar compromissos, mas a combinação de emoções arcaicas e novos canais tecnológicos mina essas premissas, impulsionando uma política visceral e baseada em instintos. O filósofo político do século passado pensava na opinião pública como uma arena para debate argumentativo; hoje, ela se assemelha mais a um campo de batalha emocional, onde o vencedor é aquele que grita mais alto sobre traição ou heresia. Assim, nossas paixões "paleolíticas" — honra, orgulho de facção, fervor moral — ressurgem com força, só que em vez de brandirmos pedras, espadas ou tochas flamejantes, estamos empunhando smartphones e tweets mordazes.
Diante desse cenário, poderíamos ser tentados ao pessimismo : afinal, uma mente paleolítica com ferramentas modernas pode causar grandes danos, e isso é em parte o que vemos nas patologias sociais atuais. Mas reconhecer o problema já é um passo em direção a possíveis soluções. O próprio fato de entendermos que essa tribalização da vida online não é simplesmente uma falha moral individual, mas sim um desalinhamento evolutivo, pode nos ajudar a abordá-lo de forma mais construtiva. Não se trata de condenar a humanidade por sua irracionalidade, mas de reconhecer que todos somos vulneráveis a esses mecanismos — mesmo pessoas instruídas e conscientes são influenciadas por eles em alguma medida. Em última análise, ser humano significa carregar dentro de nós esse legado duplo: por um lado, os instintos imediatos de um organismo social forjado na escassez e no perigo iminente; por outro, a centelha da razão e da criatividade que nos permitiu construir civilizações complexas.
Mais sobre estes tópicos:
ilmanifesto




